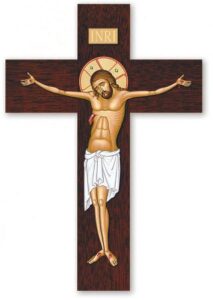

O crucifixo é uma imagem; a cruz é um símbolo. A distinção não é acadêmica. Quando comparamos o universo imaginativo do Islã com o do Hinduísmo, por exemplo, encontramos, no primeiro caso, uma tradição que é cautelosa em relação a imagens, e que na maioria das vezes proíbe representações figurativas de criaturas sensoriais em forma alguma; na verdade, quanto mais altas forem elas na hierarquia da vida, menos suas imagens serão toleradas – humanos, muito menos do que os animais brutos, e humanos santos (digamos, Moisés, Jesus ou Maomé) de forma nenhuma.
Em contraste, a complexa tradição religiosa da Índia parece gerar uma selva de imagens. Contudo, se quisermos ser exatos (e, no final das contas, um pouco acadêmico), as estátuas e figuras do mundo hindu não são, stricto sensu, imagens; são símbolos. Correndo o risco de simplificar demais, o Islã idealmente baniria todas as imagens, permitindo apenas ornamentação vegetal e caligráfica; o Hinduísmo, contudo, aceitaria toda e qualquer imagem, mas só na condição sussurrada (e partilhada apenas entre os sábios) que elas sejam na verdade símbolos.
A imagem (o ‘ícone’) re-apresenta algo ausente por meio de uma semelhança (retrato, foto, etc.), ao passo que o símbolo apenas sugere ou veicula algo, mas algo tão grande, ou complexo, ou misterioso, que iteração por similitude fica impossível. Alguns exemplos seriam cores litúrgicas, a flecha da igreja, a bandeira de um país, etc. Existem interseções importantes, mas queremos ficar aqui apenas dentro da problemática da distinção.

Ora, há razões metafísicas e transparentes para que o Islã seja em princípio ‘anicônico’ (avesso a imagens) e o Hinduísmo, profusamente icônico. O muçulmano devoto, em seu intento de afirmar a unidade e unicidade de Deus, receia que a distância entre a imagem e o ídolo possa se encurtar ao ponto da quase coincidência, quando as criaturas superiores – ou até mesmo o próprio Deus – tornam-se objeto de imitações figurativas. Ele vê aqui, à espreita, duas tentações de cometer shirk (a atribuição de qualidades divinas a uma criatura), e isso em uma de duas maneiras: 1) pelo ato mesmo de produzir um simulacro dos animais e do homem, a pessoa pode cair na tentação de se imaginar a si própria como um divino Criador de mundos; e 2) o trabalho artístico assim produzido provavelmente desencaminhará pelo menos alguns à adoração, e assim a imagem terá se tornado um ídolo. Contemporâneas e quase coincidentes com essa problemática foram as discussões do Cristianismo em torno da questão dos ícones. No entanto, a sua teologia impôs uma solução própria, como veremos.

Os estudiosos do pensamento indiano estão bem atentos à noção que paira sobre quase todo o pensamento do subcontinente: a de maya, uma ideia que caracteriza o mundo material ao nosso redor como sendo:
1) num sentido sombrio, uma dança de formas que fingem ser o que não são, provocando assim estados de consciência ‘ilusórios’, ou
2) num sentido mais profundo e luminoso, o próprio jogo – tanto má-gico, quanto ma-terial e até ma-terno – da verdadeira realidade (essa raiz ‘ma-’ sendo cognata, nos idiomas indo-europeus, daquela presente em ma-ya). Por isso é capaz de ser veículo para a última realidade, pelo menos por um olho adequadamente purificado. Mas, como quer que se a considere, a visão indiana do mundo o concebe não apenas como contingente, no sentido ocidental (ou seja: algo que é, mas que poderia não ser), mas também como uma aparência mutável e diáfana, em continuidades e descontinuidades incessantes com a realidade absoluta. Os próprios deuses (como as várias formas de Ishvara) emergem e submergem como faces fugidias deste ou daquele aspecto do Brahman.
Alguns deles até ‘descem’ como avatares missionários (Rama ou Krishna, por exemplo), penetrando nas regiões mais baixas e densas de maya, para ajudar aqueles que lutam para se libertarem deste fluxo perpétuo e sem destino (samsara). Todavia, para o Hindu, esse fluxo, simbolizado pela Dança de Shiva, tem continuado desde sempre, e jamais chegará a um fim. Afinal, é isso, justamente, o que o universo é.

Os cristãos compartilham com os judeus e muçulmanos a crença de que o mundo é o resultado de um ato irredutivel e metafisicamente pessoal e livre da parte de Deus, e que toda a Criação é, portanto, particular. Segundo essa visão, o Todo-Poderoso poderia ter criado qualquer número de outros mundos muito diferentes daquele em que vivemos. Dessa forma, estamos relacionados a Deus de uma forma altamente particular. Para as fés abraâmicas, o mundo não é um jogo indefinido de formas, mas antes um livro a que somos convidados a ler, uma mensagem que recebemos, um cosmos muito específico (com uma velocidade da luz rigorosamente exata, por exemplo).
Para as fés semíticas, considerando o cosmos, não se trata de uma manifestação perpétua e sem fim de todas as possibilidades inerentes à divina infinitude, mas apenas de uma singela possibilidade. Sendo singelo, o cosmos é especialmente prenhe de significado.
Os historiadores da ciência frequentemente ficam intrigados com o nascimento exclusivo da moderna ciência no contexto cristão e europeu. Mas é provavelmente essa mesma convicção bíblica sobre a criação que está na raiz do desenvolvimento e emancipação da abordagem científica do cosmos (já nascente na Idade Média). Se o mundo não é de forma alguma contíguo a Deus, nem uma parte de Deus, nem Deus ‘de dentro para fora’, tampouco uma emanação igual ao Seu ser, mas existe de forma distinta e particular em relação a seu Criador, então a ciência moderna torna-se possível.
A investigação do mundo da massa e da energia e o desvendamento de suas leis físicas não serão mais proscritos como a violação de um santuário, mas apenas vistos como a resposta lógica a um universo cheio de logos, em exibição espetacular perante nossos olhos. Um tal universo é entendido de fato como uma expressão de Deus, ainda que na linguagem muito ‘local’ de um mundo específico.
Toda essa especificidade dá a um cosmos que é definidamente contingente, também uma alta dose de realidade, ainda que dependente do Deus que o criou. O hindu meditativo será levado no final das contas a ver tudo – inclusive a si próprio – como um símbolo fugidio do Absoluto. Ele amiúde verá seu próprio destino como uma dissolução naquela matriz solvente, ao passo que o cristão encontra, na sua pessoalidade e na do Deus que o criou, dois sólidos e duradouros pólos entre os quais a vida, o conhecimento e o amor podem fluir, crescendo, mas sem jamais mudar substancialmente. Não obstante, dado que o mundo particular também manifesta necessariamente os mistérios de Deus em cada detalhe, os símbolos desempenharão um importante (ainda que não central) papel na fé cristã, como fazem também no Judaísmo e no Islã.
Na tradição cristã em particular, não faltam cruzes como símbolos da Redenção, de Corações Sagrados e Imaculados como símbolos de amor e pureza, braços erguidos em gestos de súplica, cores litúrgicas e vestimentas sugestivas no sempre esplêndido pano de fundo dos mistérios sacramentais. Todos esses símbolos são como um engaste, divinamente fabricado, para as verdadeiras gemas da divina presença; é como um acompanhamento orquestral para um solista tenor. Mas esse tenor canta uma estória.
Pairando soberanamente acima e além de todos os símbolos estão as imagens: desde o Presépio e retratos do Cristo em milagres e palavras, até às últimas imagens e ícones do Salvador Crucificado e à Tumba Vazia. Esses não são símbolos sugestivos de verdades ou valores transcendentes, mas sobrias descrições de fatos históricos. Esses fatos contam uma narrativa na qual Deus toca o mundo de modo que nunca foi imaginado nos Vedas e no Gita, nos Sutras do Buda, ou mesmo na Torá ou no Corão. É o que faz do Novo Testamento realmente algo novo, e planta o ‘sinal de contradição’ (Lc. 2,34) no curso da história humana.
A crença cristã na Encarnação – e em sua decorrência: na Ressurreição, nos sacramentos e numa Nova Jerusalém transformada, mas ainda incluindo a matéria – significa que, emergindo, destacadamente, do ambíguo e mutável mundo dos símbolos indiretos, as faces e ações do Mistério Pascal dão um dramático passo adiante. Elas geram imagens abertamente diretas, as quais tornar-se-ão a linguagem imaginativa mais característica do Cristianismo.
Em 787, o último dos sete primeiros concílios ecumênicos posicionaria o mundo da arte cristã – direta ainda que delicadamente – entre a iconoclastia dos muçulmanos e a exuberância simbólica dos hindus. Mas este concílio fê-lo apenas afirmando o livre ato do Deus pessoal que tomou posse de sua criação, aquele que se tornou um com ela no ventre da Virgem Maria. Esse ato e os fatos resultantes produziram um mundo de arquitetura, pintura e estatuária que, de fato, vai mergulhar livre e criativamente na paleta dos emblemas e símbolos tradicionais. Mas fará isso apenas para enquadrar melhor os mistérios do Verbo Encarnado e seu vínculo inquebrantável com o universo criado por Deus, e destinado a ser o lugar em que Ele habitará.



